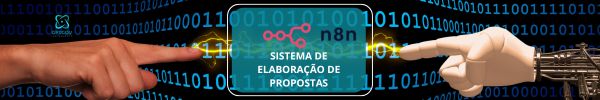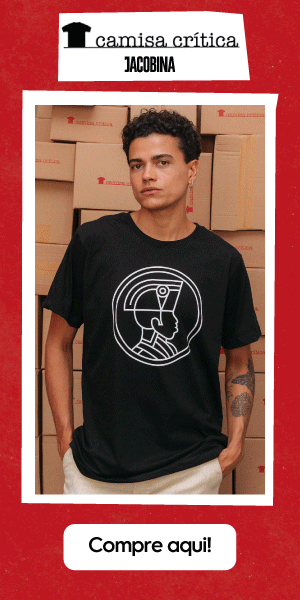Recentemente, têm circulado notícias nas redes sociais de que os jovens estão recorrendo cada vez mais ao ChatGPT em busca de consolo. Acima de tudo, esse fenômeno evidencia o fracasso do cuidado coletivo no ambiente social capitalista — ou seja, a incapacidade das instituições sociais em torno das quais organizamos nossas vidas de oferecer escuta, cuidado, conforto e apoio. Estamos diante de uma nova fronteira de erosão do cuidado?
Estudar esse problema é complexo porque envolve compreender historicamente como o capitalismo abordou as crises de cuidado que o próprio sistema gera, com soluções que, por sua vez, geram novas crises. Nesse sentido, Nancy Fraser aponta que, para superar uma crise de cuidado, o capitalismo fortalece e molda o papel da família nuclear como fundamento da sociedade; atribui o cuidado como trabalho não remunerado, prestado por amor ou obrigação moral. Em outras palavras, o cuidado, função necessária à vida, é padronizado por meio da designação de um sujeito social particular e imutável para fornecê-lo. No mesmo movimento, torna-o invisível; ou seja, não reconhece nenhum valor que mereça remuneração.
A famosa frase de Silvia Federici e dos marxistas italianos, “o que chamam de amor é trabalho não remunerado”, não visa mercantilizar o trabalho de cuidado, mas sim destacar o fato de que o capitalismo se sustenta porque algumas pessoas foram designadas para o trabalho não remunerado de reproduzir a vida. O objetivo dos militantes marxistas não era obter remuneração por esse trabalho, mas, ao contrário, a abolição de todo trabalho remunerado e a derrubada do capitalismo, precisamente porque reconheciam que não havia como fazer justiça ao trabalho de cuidado dentro da estrutura do sistema capitalista.
No entanto, a criação e consolidação da família como núcleo da sociedade responsável pelo cuidado e pela reprodução da vida por meio de corpos feminizados não apazigua inteiramente as contradições entre capital e cuidado. Como Fraser aponta, o capital exerce uma pressão ainda maior sobre essas instituições sociais para que extraiam o máximo de valor possível, tornando cada vez mais difícil para a instituição familiar — falida e antissocial desde o início — cumprir seu papel de reproduzir a vida.
Fraser argumenta que o capitalismo corroeu a capacidade das instituições sociais de sustentar a reprodução da vida a tal ponto que apoiar e ouvir uns aos outros se torna impossível ou materialmente insustentável. A precarização (desculpem, “flexibilidade”) do trabalho, a ineficiência do transporte público, o subfinanciamento das políticas de bem-estar social, a pobreza monetária e de tempo que nos deixa sem espaço para o lazer, a mercantilização ou privatização dos serviços básicos de saúde (educação, saúde, moradia, recreação etc.), a fragmentação das formas como organizamos nossa sociedade em torno de casais e a construção de um modelo de família nuclear cada vez mais isolado são fatores que minam a capacidade de uma comunidade de atender a múltiplas necessidades, incluindo a de proporcionar conforto aos necessitados.
Diante dessa nova reviravolta nas contradições entre capital e cuidado, o capital adotou recentemente uma nova solução para lidar com a crise: a inteligência artificial como forma de acabar com a terceirização de uma dimensão do trabalho de cuidado. A inteligência artificial não lida com as tarefas penosas — que exigem mão de obra precária — associadas ao cuidado, como a limpeza constante de casas e ruas ou a coleta, triagem e reciclagem de lixo. Não. Ela substitui a conversa com outra pessoa, aquele diálogo que nos permite sentir acolhidos, ouvidos, compreendidos e parte de algo maior do que a mera soma de indivíduos. Em suma, o que a inteligência artificial busca é substituir o coletivo.
Para Marx, o maior problema da forma capitalista era que ela distorcia as relações humanas — tanto entre os indivíduos e eles próprios, quanto nas relações com os outros e o ambiente ao seu redor — gerando um estado de alienação. A alienação tem sido entendida como o processo pelo qual o trabalhador se separa de seu trabalho, de si mesmo e dos outros; é um processo de desconexão da humanidade e de reestruturação das relações humanas como meramente comerciais.
A busca por conforto por meio de um mecanismo de inteligência artificial, uma linguagem preditiva que prioriza a gratificação instantânea e, acima do bem-estar, da reflexão ou do desejo de mudança (em si mesmo ou no sistema emocional que o cerca), visa nos manter utilizando a ferramenta, é uma representação aterrorizante da alienação.
Esse fenômeno também leva ao que Fisher chamou de “hedonia depressiva”: as novas gerações estão aliviando sua profunda tristeza buscando gratificação instantânea, tornando-as incapazes de fazer qualquer coisa além daquilo que lhes traz prazer. No caso da inteligência artificial, qual melhor estratégia para a hedonia depressiva do que recorrer a uma ferramenta cuja função é reiterar o que a pessoa quer ouvir para que ela se sinta melhor o mais rápido possível, sem passar pelo desconforto do confronto, da incerteza ou do lento trabalho da terapia e do apoio coletivo?
Aqueles que usam essa ferramenta para buscar conforto caem, assim, em uma espécie de diálogo narcisista, onde o que estão, na verdade, fazendo é falar consigo mesmos por meio de uma máquina que se apresenta como “neutra”, mas que, no fim das contas, está lá apenas para lhes dizer o que querem ouvir, enfraquecendo sua capacidade de se conectar com os outros, de sustentar desconforto, frustração, diálogos difíceis ou simplesmente a capacidade de pensar além de si mesmos. Vale esclarecer, no entanto, que essa prática não é culpa do indivíduo que busca ajuda ou conforto por meio da IA, mas sim da falha das instituições sociais em fornecê-los.
Brigitte Vasallo diria que esse fenômeno alimenta o individualismo, o que, por sua vez, é mais uma evidência do triunfo do capitalismo emocional. A resposta à pergunta de por que os seres humanos se sentem cada vez mais tristes tem duas dimensões possíveis na literatura: a primeira é que a tristeza, por meio da emoção, nos ajuda a reconhecer o que é verdadeiramente importante para nós; portanto, as emoções são uma espécie de julgamento de valor. A segunda é que a tristeza ajuda a fortalecer o tecido social por meio do consolo, o que não é tão evidente com outras emoções compartilhadas, como a alegria ou o orgulho. Portanto, responder à tristeza com inteligência artificial é uma maneira completamente sem precedentes de erodir a comunidade, com consequências perigosas.
Buscar conforto na inteligência artificial não só nos deixa com habilidades sociais reduzidas, necessárias para viver coletivamente, em comunidade e levar vidas significativas, como também corrói nossa capacidade de nos conectarmos com o ambiente para sustentar uns aos outros. Esse fenômeno é tanto um sintoma de uma sociedade falhando em seu nível mais básico quanto um alerta para a sociedade individualista que estamos construindo para o futuro. O diálogo narcisista pode oferecer conforto, mas não conexão: para se conectar, você precisa de um outro, diferente de si mesmo, capaz de acolher e conter. Onde isso deixa essas gerações que encontram conforto vazio na IA e vivenciam a dissolução da conexão?
María Juliana Machado
é cientista política e psicóloga pela Universidad de los Andes (Colômbia), possui mestrado em Estudos de Conflitos – Política Comparada pela London School of Economics and Political Science (Reino Unido) e mestrado em Psicologia Clínica com Abordagem Sistêmica pela Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia). Trabalhou na reconstrução da memória histórica e no apoio psicossocial a vítimas do conflito armado na Colômbia.